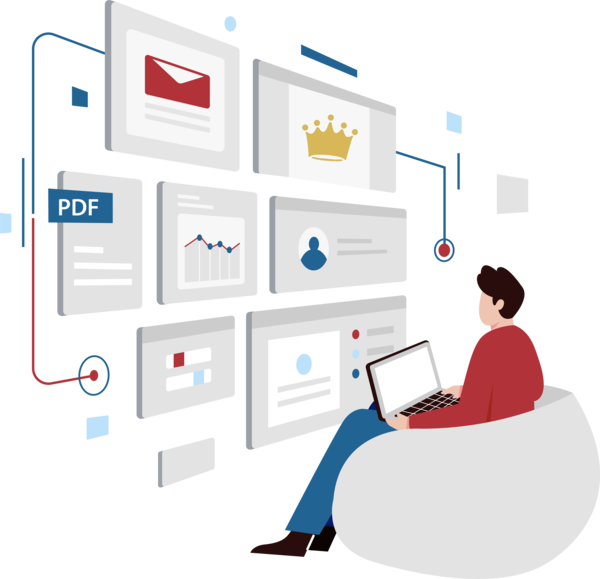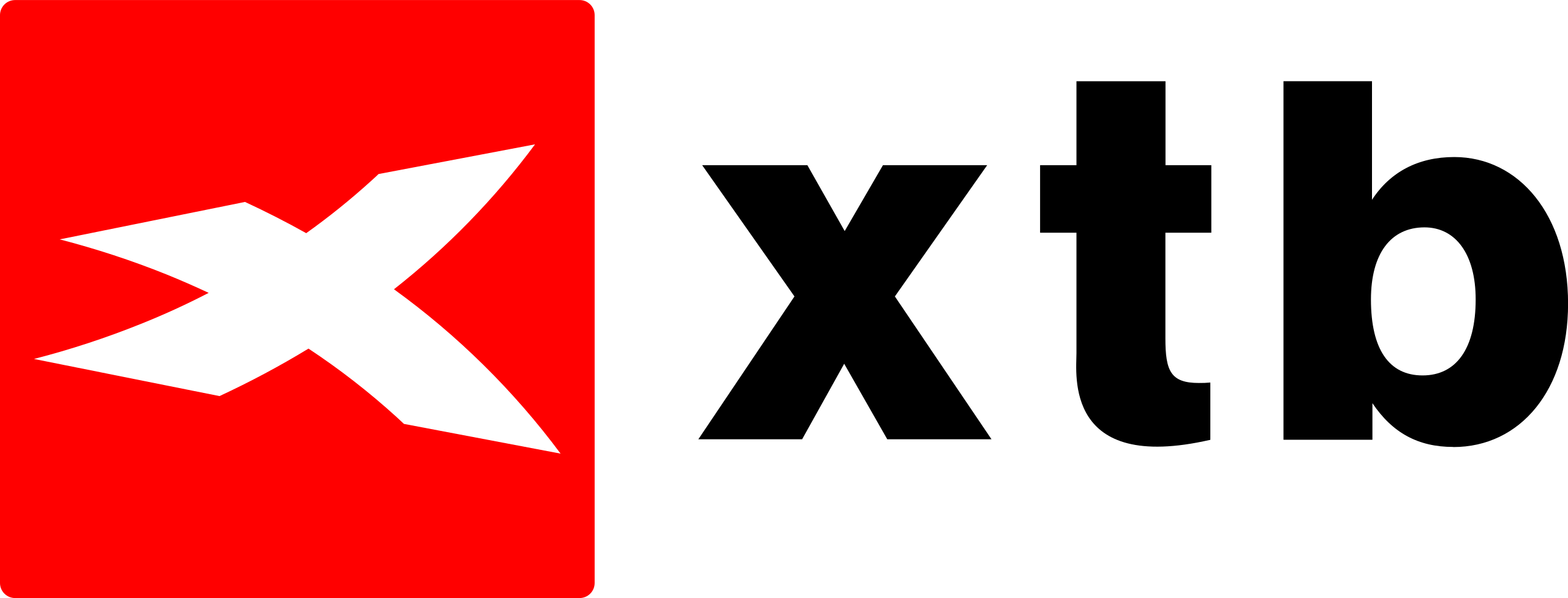Como construir um portfólio de investimentos em Portugal
Falar de investimentos em 2025 já não é um tema reservado a especialistas ou a quem tem grandes quantias para aplicar. Hoje, investir tornou-se uma competência essencial para qualquer pessoa que queira proteger o seu futuro financeiro num contexto marcado por inflação persistente, juros voláteis e um custo de vida que não abranda.
Mas antes de investir, há uma etapa fundamental que muitos ignoram: construir um portfólio sólido, coerente e alinhado com os próprios objetivos.
Um portefólio não é apenas uma lista de ativos soltos. É uma estratégia, um mapa e mostra a forma como transformamos decisões isoladas em crescimento consistente ao longo do tempo.
Neste artigo, vamos esclarecer de forma prática e clara:
- O que realmente é um portefólio;
- Como se constrói um que faça sentido para o investidor português;
- Quais as variáveis críticas, os riscos, os erros a evitar e os princípios que distinguem um portefólio amador de um portefólio robusto.
A ideia não é complicar — é dar estrutura, porque investir sem estratégia é como navegar sem bússola: podes avançar, mas raramente chegas onde queres.
O que realmente é um portfólio?
Um portfólio de investimentos não é uma simples coleção de produtos financeiros. É um sistema vivo, construído com propósito, e que traduz a forma como cada investidor encara o tempo, o risco e o dinheiro.
Mais do que somar ações, obrigações ou fundos, um portfólio é uma estratégia organizada, uma arquitetura que reflete objetivos concretos, horizontes de investimento e tolerância emocional às variações do mercado. É, por isso, um espelho da mentalidade de quem o constrói.
Há quem o veja como um meio para alcançar liberdade financeira; outros, como uma ferramenta para preservar o que já conquistaram. Mas em todos os casos, a lógica é a mesma: um portfólio bem estruturado protege de impulsos, orienta decisões e cria disciplina.
Investir sem estratégia é como navegar sem bússola — qualquer direção serve, até que o mercado muda e o rumo se perde.
Por isso, antes de escolher produtos, é essencial definir para quê e por quanto tempo se está a investir.
Só depois vem o “como”.
Em última análise, um portfólio é um espelho da estratégia, não do momento. É o reflexo de uma visão financeira — não das emoções de um trimestre.
O contexto português: onde investimos, afinal?
Construir um portfólio de investimentos em Portugal é um exercício diferente de o fazer noutros países. Não por falta de opções, mas pelas particularidades do nosso sistema fiscal, da regulação e da própria cultura financeira.
O investidor português tem, hoje, mais acesso do que nunca a plataformas globais, ETFs internacionais e produtos diversificados. Mas essa liberdade vem acompanhada de novas responsabilidades — compreender o enquadramento local, as implicações fiscais e as diferenças entre o que é “seguro” e o que apenas parece ser.
Durante anos, a maioria dos portugueses manteve o património concentrado em dois ativos: imobiliário e depósitos bancários. Ambos familiares, tangíveis e culturalmente valorizados. Essa preferência moldou o comportamento financeiro nacional: grande peso em ativos ilíquidos, baixa diversificação e exposição mínima ao mercado acionista.
Mas o cenário começou a mudar. O aumento dos conteúdos de literacia financeira disponíveis na Internet, muito potenciado pelas redes sociais despertou o interesse por instrumentos mais sofisticados, como ETFs, fundos mistos ou PPRs em formato fundo de investimento. O problema é que esta transição está a acontecer num ambiente fiscal e regulatório que nem sempre é claro para o pequeno investidor.
É aqui que entra o conhecimento local. Entender o impacto dos impostos, as regras da CMVM e as opções realmente acessíveis é o primeiro passo para transformar curiosidade em estratégia. O investidor português precisa de agir com consciência e não apenas com entusiasmo.
Nos pontos seguintes, exploraremos as três variáveis que definem o terreno onde todos investem: fiscalidade, regulação e oferta de produtos financeiros.
Situação fiscal e tributária
A fiscalidade é, em Portugal, um dos fatores mais determinantes, e frequentemente mais negligenciados, na construção de um portfólio de investimentos.
Dois investidores com a mesma rentabilidade bruta podem ter resultados líquidos muito diferentes, apenas por causa da forma como os seus ativos são tributados.
O ponto de partida é o IRS. A generalidade dos rendimentos de capitais — juros, dividendos ou mais-valias — é sujeita a uma taxa liberatória de 28%, podendo o investidor optar pelo englobamento, se o fizer sentido no contexto do seu rendimento global. Esta opção é vantajosa apenas em casos muito específicos, como rendimentos baixos ou deduções relevantes. A Lei 31/2024, de 28 de junho, veio alterar um pouco esta questão e permite uma isenção de IRS sobre as mais-valias, dependendo do prazo do investimento. No melhor cenário possível, investimentos como fundos ou ETF, mantidos por mais de 8 anos, beneficiam de uma isenção de tributação de 30% da mais-valia, resultando assim numa taxa de 19,6%, em vez dos habituais 28%.
O investidor deve ter em consideração que, na esmagadora maioria dos casos, as mais valias e dividendos serão pagos em bruto, sendo depois a responsabilidade do investir proceder à sua declaração no momento da entrega de IRS no ano seguinte. Por norma, as corretoras, ou intermediários financeiros, emitem uma declaração no início de cada ano, com toda a informação relevante para este efeito.
Já os PPRs (Planos Poupança Reforma) mantêm um papel singular. Além dos benefícios fiscais à entrada — dedução à coleta de até 400 euros por pessoa —, a grande vantagem está na taxa reduzida de tributação na saída, que pode chegar aos 8% se o resgate respeitar as condições legais.
Em suma, compreender a fiscalidade é compreender o rendimento real. Ignorar o impacto do imposto é como calcular o lucro sem contar com custos. Um portfólio inteligente não é apenas bem diversificado como é também fiscalmente eficiente.
Leia também ➡️Como declarar os teus investimentos no IRS
Regulação e confiança
Investir é, antes de mais, um ato de confiança. E essa confiança deve assentar em regras claras e entidades credíveis. Em Portugal, o principal pilar dessa confiança chama-se CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).
A CMVM tem como missão supervisionar e regular o mercado de capitais, garantindo que os produtos financeiros, as instituições e os intermediários cumprem as normas de transparência e de proteção ao investidor. É também quem emite autorizações, fiscaliza práticas abusivas e mantém o registo público das entidades habilitadas a operar.
Para o investidor individual, este detalhe é essencial. Escolher uma corretora ou sociedade gestora registada na CMVM — ou noutra autoridade europeia reconhecida pela ESMA — é a diferença entre investir de forma segura e expor o capital a riscos desnecessários.
Empresas não registadas podem oferecer plataformas atraentes, mas operam fora do alcance regulatório português, o que significa ausência de garantias em caso de litígio, falência ou fraude.
A regulação não é um entrave — é uma forma de proteção.
Num mercado onde proliferam promessas de retornos fáceis, numa série de burlas e fraudes, principalmente, mas não só, online, a confiança tem de ser construída com base na legitimidade e na transparência.
O investidor informado não procura apenas rentabilidade; procura também segurança jurídica.
E num país com mercado financeiro ainda em maturação, a confiança é, muitas vezes, o primeiro investimento que precisa de ser feito.
Mercado disponível e limitações locais
O investidor português tem hoje mais opções do que nunca e entre produtos tradicionais e soluções globais, o desafio não é a falta de instrumentos, mas a falta de acesso fácil, clareza fiscal e literacia suficiente para os comparar.
Os depósitos bancários continuam a ser o produto financeiro mais popular em Portugal. São simples, líquidos e percecionados como seguros, embora ofereçam, na maioria dos casos, rendibilidades inferiores à inflação. Servem como reserva de emergência, não como instrumento de crescimento.
Os fundos de investimento — tanto nacionais como estrangeiros — oferecem maior potencial de rentabilidade e diversificação. A sua vantagem está na gestão profissional da carteira de investimentos, o que, em teoria, deverá trazer uma rentabilidade superior. No entanto, uma rápida pesquisa pelos indicadores destes fundos de investimento, mostra uma realidade diferente e revelam produtos com elevadas comissões de gestão, acompanhadas de uma rentabilidade média inferior a outros produtos, muitas vezes, com menos risco.
Os ETFs (Exchange-Traded Funds) têm ganho relevância como ferramenta eficiente de diversificação e custo reduzido. A crescente oferta de plataformas mais digitais permitiu o acesso a produtos globais, replicando índices de ações, obrigações ou setores específicos. Ainda assim, a falta de conhecimento sobre fiscalidade e risco leva muitos investidores a manter-se afastados.
Os produtos de dívida soberana, principalmente os Certificados de Aforro, mas também outros produtos como os Certificados de Tesouro e, em casos mais raros para investidores invidivuais, as Obrigações do Tesouro, continuam a atrair bastante interesse, assente na confiança existente sobre o estado português.
Por fim, os PPRs (Planos Poupança Reforma) permanecem um instrumento relevante, principalmente pela componente fiscal, e pelo facto de serem produtos que, potencialmente, se enquadram como poupança ou investimento, dependendo do produto escolhido. A possibilidade de transferir PPR e, assim, poder ir gerindo o risco ao longo da vida, sem ter de vender o produto e pagar comissões e/ou impostos sobre esse ganho, trazem uma flexibilidade adicional ao produto.
Apesar da evolução, o mercado português ainda enfrenta três limitações estruturais: custos de intermediação elevados, falta de simplicidade na comunicação e a premente falta de literacia financeira que, apesar de melhoras significativas, continua a ter muito para evoluir.
Superar essas barreiras é essencial para que o pequeno investidor possa competir em igualdade com os mercados mais maduros da Europa e do Mundo.
Como desenhar um portfólio sólido
Construir um portfólio sólido é um exercício de coerência — não de complexidade. O erro mais comum entre investidores iniciantes é começar pelo fim: escolher produtos antes de definir objetivos. Um portfólio robusto nasce da clareza sobre para que investir, durante quanto tempo e com que grau de conforto face à incerteza.
O processo começa com o autoconhecimento financeiro. Cada investidor tem uma combinação única de metas, rendimentos e tolerância emocional ao risco. É essa mistura que dita a estrutura ideal da carteira — e não o desempenho recente dos mercados ou as recomendações de terceiros.
A construção deve seguir três princípios:
- Diversificação intencional: distribuir o capital entre classes de ativos diferentes (ações, obrigações, liquidez, alternativos) para reduzir a exposição a um único risco.
- Proporção ajustada ao horizonte temporal: quanto mais distante o objetivo, maior pode ser o peso em ativos de risco; quanto mais próximo, mais importância assume a preservação de capital.
- Simplicidade e consistência: um portfólio não precisa de ser sofisticado para ser eficaz — precisa de ser compreendido e mantido.
Mais do que procurar o portfólio “perfeito”, o objetivo é encontrar um equilíbrio funcional entre risco e retorno, capaz de resistir a ciclos económicos e às emoções do próprio investidor.
Um portfólio sólido não é o que rende mais num ano, mas o que sobrevive melhor a uma década.
Nos pontos seguintes, exploram-se os fatores que tornam essa solidez possível: o perfil de investidor, a alocação estratégica e o equilíbrio entre risco e rentabilidade.
Perfil de investidor e objetivos
Antes de escolher produtos, é essencial compreender quem é o investidor.
O perfil de risco é o ponto de partida de qualquer portfólio — determina a alocação, o horizonte temporal e o tipo de ativos adequados. Em Portugal, como noutros mercados, distinguem-se três perfis clássicos: conservador, moderado e agressivo.
Apesar de, na minha opinião, ser impossível encaixar milhões de investidores apenas em 3 grandes grupos, ainda assim, estes podem ser um ponto de partida para quem está a começar, devendo ter depois a consciência que é natural que o seu perfil vá flutuando à medida que o tempo passa e o conhecimento e experiência aumenta.
Investidor conservador
Prioriza a segurança do capital em detrimento da rentabilidade. Valoriza previsibilidade, liquidez e estabilidade.
- Horizonte temporal: curto a médio prazo (1 a 5 anos).
- Objetivos típicos: reserva de emergência, entrada para habitação, proteção do património.
- Composição base: maioritariamente obrigações, depósitos e ETFs de obrigações soberanas.
Este perfil tende a reagir mal à volatilidade — o principal risco é sair do mercado em momentos de queda, comprometendo o retorno futuro.
Investidor moderado
Procura equilíbrio entre crescimento e segurança. Aceita alguma flutuação do valor investido em troca de melhores retornos no longo prazo.
- Horizonte temporal: médio a longo prazo (5 a 10 anos).
- Objetivos típicos: complementar a reforma, investir para os filhos, acumular capital.
- Composição base: combinação equilibrada entre ações globais e obrigações de curta ou média duração.
O desafio é manter disciplina — reequilibrar periodicamente sem cair na tentação de reagir a cada notícia de mercado.
Investidor agressivo
Foca-se no crescimento do capital e aceita elevados níveis de volatilidade. Tem visão de longo prazo e tolerância psicológica a perdas temporárias.
- Horizonte temporal: longo prazo (10 anos ou mais).
- Objetivos típicos: independência financeira, maximização de rentabilidade, diversificação internacional.
- Composição base: predominância de ações, ETFs setoriais e exposição a mercados emergentes.
Aqui, o risco não é perder dinheiro — é desistir demasiado cedo.
Independentemente do perfil, o essencial é coerência entre objetivos e comportamento.
Um portfólio sólido reflete a realidade e o temperamento do investidor, não as tendências do momento.
Em finanças, o pior perfil é o que muda conforme o mercado.
Alocação e equilíbrio
A alocação é a espinha dorsal do portfólio: define quanto colocar em cada classe de ativo e porquê. Percentagens ajudam, mas o que realmente importa é o raciocínio estratégico por trás das escolhas. Pense na carteira como três “funções” — crescer, amortecer e respirar.
Ações — crescer
- Função: motor de crescimento do capital no longo prazo.
- Porquê: participação nos lucros das empresas; historicamente, superam a inflação com folga em horizontes longos.
- Quando pesa mais: objetivos a ≥10 anos, capacidade emocional para tolerar quedas de 30–50% sem vender.
- Riscos a gerir: volatilidade e concentração. Mitiga-se com diversificação global (ETFs amplos), evitando excesso de apostas setoriais/país.
Obrigações — amortecer
- Função: estabilizar o portfólio e reduzir a amplitude das quedas
- Porquê: fluxo de rendimentos e menor volatilidade relativa; tendem a cair menos quando as ações corrigem.
- Como escolher: duração/“maturity” coerente com o horizonte (curta para menor sensibilidade a juros; média para alguma rentabilidade), qualidade de crédito (soberanas/IG para defesa).
- Riscos a gerir: risco de taxa (subidas de juros afetam preços) e risco de crédito (alto rendimento = maior probabilidade de default).
Liquidez — respirar
- Função: margem de manobra para imprevistos e oportunidades, sem vender ativos em baixa.
- Porquê: reduz o risco de “vender no pior dia” e dá serenidade para cumprir a estratégia.
- Onde fica: depósitos, contas à ordem remuneradas, fundos/ETFs de tesouraria ou de curtíssimo prazo.
- Regra prática: separar fundo de emergência (fora do portfólio de risco) e liquidez tática (dentro da carteira, com objetivo de gestão).
Leia ainda ➡️O que são produtos financeiros?
O trade-off risco-retorno
Investir é um exercício permanente de equilíbrio entre duas forças: o desejo de rentabilidade e a necessidade de segurança. Não há forma de eliminar o risco sem abdicar do retorno — apenas de o gerir com inteligência.
É aqui que entra o conceito central da Teoria Moderna do Portfólio (Markowitz, 1952): o risco não deve ser evitado, deve ser recompensado.
Cada classe de ativo oferece um retorno esperado proporcional ao risco que comporta.
- Quem quer estabilidade, aceita ganhos limitados.
- Quem procura crescimento, deve tolerar oscilações no percurso.
Daí a máxima: “não existe rentabilidade sem volatilidade.”
A volatilidade — as subidas e descidas do mercado — é o preço pago pela oportunidade de participar no crescimento económico. O erro comum é confundi-la com perda. Perda é vender no fundo; volatilidade é o ruído que se atravessa até chegar ao destino.
A teoria mostra que, para cada nível de risco, existe uma combinação ótima de ativos que maximiza o retorno potencial — a chamada fronteira eficiente.
Na prática, significa que não vale a pena suportar mais risco do que o necessário para o mesmo resultado. Um portfólio diversificado aproxima-se dessa linha ideal.
Num portfólio real, este trade-off traduz-se em ajustar o peso de ações e obrigações até ao ponto em que:
- a volatilidade é suportável,
- o retorno esperado é suficiente para cumprir objetivos, e
- o investidor consegue manter-se investido, mesmo em quedas.
A teoria fornece o mapa, mas é o comportamento que garante a viagem.
Um portfólio eficiente no papel é inútil se o investidor o abandonar à primeira correção.
Em última análise, gerir risco é gerir emoções — não apenas percentagens.
Estratégias de gestão e reequilíbrio
Um portfólio bem construído não é um projeto estático — é um organismo vivo que precisa de acompanhamento, disciplina e ajustes pontuais. O tempo, o mercado e o comportamento do investidor alteram naturalmente as proporções entre ativos. E é aqui que entra o reequilíbrio, uma das práticas mais subestimadas e mais poderosas da gestão de longo prazo.
O reequilíbrio consiste em voltar a alinhar o portfólio com a sua estratégia original, vendendo parcialmente os ativos que mais subiram e reforçando os que ficaram para trás.
É um ato de disciplina, não de emoção. Enquanto o impulso natural é perseguir o que está a subir, o investidor disciplinado faz o contrário: reduz o peso do eufórico e aumenta o do negligenciado. Existem 3 motivos principais para o fazer
- Controlo do risco: um portfólio que começa com 60% em ações pode, após um ano de fortes ganhos, passar a 70%. O retorno cresce, mas também o risco — e a exposição já não reflete o perfil inicial.
- Disciplina comportamental: reequilibrar força o investidor a agir racionalmente, vendendo em alta e comprando em baixa.
- Sustentabilidade de longo prazo: pequenas correções periódicas evitam decisões drásticas em períodos de stress.
Apesar de não há regra universal que responda à questão “quando reequilibrar a carteira?”, há princípios úteis que podem ajudar:
- Periodicamente: 1 a 2 vezes por ano é suficiente para a maioria dos investidores.
- Por desvio: quando um ativo ultrapassa um determinado limite (por exemplo, ±5% da alocação original).
- Por oportunidade: após movimentos extremos de mercado — tanto de queda como de subida.
O método de reequilibrio depende da estrutura da carteira e dos custos associados, mas o objetivo é sempre o mesmo: restaurar o equilíbrio estratégico, não procurar “o momento certo”.
Pequenos ajustamentos com base em percentagens mantêm a coerência do plano e protegem o investidor de reações emocionais.
Mais importante do que o momento exato é o compromisso com a rotina. O reequilíbrio é o equivalente financeiro de uma revisão médica: adia-se facilmente, mas faz toda a diferença na prevenção de erros maiores.
Em síntese, a gestão eficaz de um portfólio não se mede pela frequência das transações, mas pela consistência das decisões.
Quem reequilibra com método, em vez de reagir por instinto, deixa de ser refém do mercado e passa a ser gestor do próprio tempo e risco.
Limitações, riscos e mitos
Nenhum portfólio é à prova de falhas. Por trás de cada decisão racional existe sempre um conjunto de fatores invisíveis — custos, impostos e emoções — que podem corroer silenciosamente o rendimento real. Reconhecer estas limitações é parte da maturidade do investidor.
Os custos de transação, spreads, comissões de gestão e retenções fiscais são muitas vezes ignorados, mas acumulam impacto significativo ao longo dos anos.
Um produto com uma comissão anual de 0,20% pode parecer irrelevante, mas num horizonte de 20 anos pode representar milhares de euros perdidos em retorno composto.
O mesmo se aplica às ineficiências fiscais. Vender um ativo no curto prazo pode trazer tributação desnecessária, e escolher produtos estrangeiros pode “baralhar as contas” em termos de impostos, já que, na maioria dos casos, nada é retido na fonte.
Em investimento, os custos pequenos são os que mais destroem em silêncio.
Além disso, a psicologia é, muitas vezes, o maior risco de um portfólio.
O excesso de confiança leva o investidor a acreditar que pode “bater o mercado” com intuições ou apostas de curto prazo.Por outro lado, o famoso, e perigoso, efeito manada, faz com que o investidor siga movimentos coletivos — entrar quando todos compram, sair quando todos vendem — anulando a sua própria estratégia.
Por último, ignorar a famosa frase “rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras” e, com isso, projetar o passado no futuro e assumir que “este fundo subiu, logo vai continuar”, revelando-se uma das principais causas de más decisões.
A verdadeira gestão de risco começa na mente: manter o plano quando o ruído é maior.
As redes sociais tornaram a informação mais acessível — e também mais perigosa. Modelos de carteiras partilhadas em vídeos, fóruns ou outras publicações raramente contam a história na sua totalidade, ignorando, muitas vezes, pontos como impostos, custos ou perfil de risco individual. O que parece funcionar para um investidor americano ou alemão pode ser ineficiente, ou até impraticável, em Portugal.
Copiar uma carteira é como usar o mapa de outra pessoa: pode levar a um destino completamente diferente.
Num mundo de excesso de dados e opções, a simplicidade é uma forma de sofisticação.
Um portfólio claro, diversificado e coerente é mais fácil de gerir, mais resistente a erros e mais estável emocionalmente.
O segredo não está em ter a melhor carteira — está em ter a carteira que se consegue manter.
A consistência vence o talento impulsivo, e o investidor disciplinado vence o especulador inquieto. No fim, o verdadeiro mito é o de que é preciso complexidade para alcançar bons resultados — quando, na realidade, o poder está em repetir o certo durante tempo suficiente.
Conclusão — o portfólio como reflexo de mentalidade
No final, construir um portfólio de investimentos não é apenas uma questão técnica — é um exercício de mentalidade.
As fórmulas, percentagens e produtos são ferramentas; o que realmente diferencia o sucesso é a coerência entre o investidor e a sua estratégia.
Não existe portfólio perfeito. Existe o portfólio que o investidor compreende, acredita e consegue manter quando o mercado o testa. Essa coerência vale mais do que qualquer tentativa de adivinhar o próximo movimento das bolsas.
A paciência é, por isso, a virtude mais subestimada no investimento. A rentabilidade nasce do tempo e da repetição disciplinada de boas decisões, não de acertos pontuais.
Quem muda constantemente de direção, em busca da “melhor carteira”, acaba por sabotar o único elemento que realmente gera crescimento: a continuidade.
Investir é, em última instância, um ato de autoconhecimento. O portfólio é o reflexo da forma como pensamos, reagimos e planeamos — e, por isso, diz mais sobre nós do que sobre o mercado.
E talvez o verdadeiro segredo esteja nesta provocação final: a verdadeira diversificação não é de produtos — é de horizontes.
FAQs
Hoje, em dia, algumas corretoras já permitem investimentos mínimos a começar em apenas 10 Euros. Mais importante do que o montante inicial é a regularidade. Pode começar com valores pequenos, desde que exista consistência. O objetivo é criar o hábito de investir e ganhar familiaridade com o mercado. A acumulação disciplinada, mesmo com pequenas quantias, supera o timing perfeito.
Por defeito, não. A queda é parte natural do ciclo de investimento, e reagir com emoção é o erro mais comum. O ideal é reequilibrar, não recomeçar. Se o portfólio foi construído com base no seu perfil e objetivos, o melhor movimento é, muitas vezes, não fazer nada — exceto manter a disciplina.
Um portfólio bem diversificado tem exposição a diferentes classes de ativos (ações, obrigações, liquidez), regiões geográficas e setores económicos, evitando duplicações disfarçadas. A regra prática: se uma única empresa, fundo ou país pode afetar de forma significativa o valor total da carteira, a diversificação é insuficiente.
Mais do que multiplicar produtos, diversificar é equilibrar riscos e horizontes temporais.
Lightyear: A prestação de serviços de investimento é assegurada pela Lightyear Europe AS. Aplicam-se os termos: lightyear.com/terms. Consulte um profissional qualificado, caso tenha dúvidas. Capital em risco.
Podem aplicar-se outras comissões.
RANKIA PORTUGAL: Este artigo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações aqui contidas não constituem aconselhamento financeiro, nem recomendação de compra ou venda de quaisquer instrumentos financeiros. A rentabilidade passada não garante retornos futuros. Antes de tomar decisões de investimento, recomenda-se a consulta de um profissional devidamente habilitado.
Trade Republic: Investir em ações envolve o risco de perda do seu dinheiro. Invista de forma responsável.
Trading 212: Quando investe, o seu capital está em risco e poderá receber menos do que o montante investido. O desempenho passado não garante resultados futuros. Esta informação não constitui aconselhamento de investimento. Faça a sua própria pesquisa. Link patrocinado. Para receber ações fracionadas gratuitas no valor de até 100 EUR/GBP, pode abrir uma conta na Trading 212 através deste link. Aplicam-se termos e condições.
XTB: Negociar envolve riscos e poderá perder parte ou todo o seu capital investido. As informações fornecidas têm fins meramente informativos e educativos e não representam qualquer tipo de aconselhamento financeiro e/ou recomendação de investimento.
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 71% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como os CFDs funcionam e se pode correr o alto risco de perder o seu dinheiro.
Investir é arriscado. Invista com responsabilidade.
Artigos Relacionados